Assim como os seres humanos, as palavras mudam de conteúdo dependendo do tempo e do lugar. Acompanhar suas transformações é instrutivo, embora, às vezes, como ocorre com o vocábulo "liberal", semelhante averiguação possa fazer com que nos extraviemos num labirinto de dúvidas.
No Quixote e na literatura de sua época, a palavra aparece várias vezes. O que significa em tal contexto? Homem de espírito aberto, bem educado, tolerante, comunicativo; em suma, uma pessoa com a qual se pode simpatizar. Nela não há conotações políticas nem religiosas, apenas éticas e cívicas no sentido mais amplo de ambos os termos.
No fim do século 18, esse vocábulo muda de natureza e adquire matizes que têm a ver com as ideias sobre a liberdade e o mercado, dos pensadores britânicos e franceses do Iluminismo (Stuart Mill, Locke, Hume, Adam Smith, Voltaire). Os liberais combatem a escravidão e o intervencionismo do Estado, defendem a propriedade privada, o livre comércio, a concorrência, o individualismo, e declaram-se inimigos dos dogmas e do absolutismo.
No século 19, um liberal é acima de tudo um livre pensador: ele defende o Estado laico, quer separar a Igreja do Estado, emancipar a sociedade do obscurantismo religioso. Suas divergências com os conservadores e os regimes autoritários geram, às vezes, guerras civis e revoluções. O liberal de então é o que hoje chamaríamos um progressista, defensor dos direitos humanos (conhecidos desde a Revolução Francesa como Direitos do Homem) e da democracia.
Com o aparecimento do marxismo e a difusão das ideias socialistas, o liberalismo passa da vanguarda para a retaguarda, por defender um sistema econômico e político - o capitalismo - que o socialismo e o comunismo querem abolir em nome de uma justiça social que identificam com o coletivismo e o estatismo (essa transformação do termo liberal não ocorre em todas as partes). Nos Estados Unidos, um liberal é ainda um liberal, um social-democrata ou pura e simplesmente um socialista. A conversão da vertente comunista do socialismo para o autoritarismo impele o socialismo democrático para o centro político e o aproxima - sem juntá-lo - ao liberalismo.
Nos nossos dias, liberal e liberalismo significam, dependendo das culturas e dos países, coisas distintas e às vezes contraditórias. O partido do tiranete nicaraguense Anastacio Somoza dizia-se liberal, e assim se denomina, na Austrália, um partido neofascista. A confusão é tão extrema que regimes ditatoriais como os de Pinochet no Chile e o de Fujimori no Peru são chamados às vezes "liberais" ou "neoliberais" porque privatizaram algumas empresas e abriram mercados. Desta degeneração da doutrina liberal não são totalmente inocentes alguns liberais convencidos de que o liberalismo é uma doutrina essencialmente econômica, que gira em torno do mercado como uma panaceia mágica para a solução de todos os problemas sociais. Estes logaritmos viventes chegam a formas extremas de dogmatismo, e se dispõem a fazer tais concessões no campo político à extrema direita e ao neofascismo que contribuem para desprestigiar as ideias liberais e para que sejam vistas como uma máscara da reação e da exploração.
Dito isso, é verdade que alguns governos conservadores, como os de Ronald Reagan nos Estados Unidos, e de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha, realizaram reformas econômicas e sociais de inequívoca raiz liberal, impulsionando a cultura da liberdade de maneira extraordinária, embora em outros campos a fizessem retroceder. Poderíamos dizer o mesmo de alguns governos socialistas, como o de Felipe González na Espanha ou o de José Mujica no Uruguai, que, na esfera dos direitos humanos, promoveram o progresso em seus países reduzindo injustiças inveteradas e criando oportunidades para os cidadãos de renda inferior.
Nos nossos dias, uma das características do liberalismo é que pode ser encontrado nos lugares mais impensados e, às vezes, brilha pela ausência onde certos ingênuos acreditam vê-lo. Pessoas e partidos devem ser julgados não pelo que dizem e pregam, mas pelo que fazem. No debate que se desenrola nos dias de hoje no Peru sobre a concentração dos veículos de comunicação, alguns defensores da aquisição pelo grupo El Comercio da maioria das ações de Epensa, o que lhe confere quase 80% do mercado da imprensa, são jornalistas que silenciaram ou aplaudiram quando a ditadura de Fujimori e Montesinos cometia seus crimes mais hediondos e manipulava toda a informação, comprando ou intimidando donos e redatores de jornais. Como poderíamos levar a sério esses novíssimos catecúmenos da liberdade?
Um filósofo e economista liberal da chamada escola austríaca, Ludwig von Mises, opunha-se à existência de partidos liberais, porque, na sua opinião, o liberalismo devia ser uma cultura que irrigasse um leque muito amplo de formações e movimentos que, embora tivessem importantes discrepâncias, compartilhavam de um denominador comum sobre certos princípios liberais básicos.
Algo disso ocorre há bastante tempo nas democracias mais avançadas, onde, com diferenças mais de matiz do que de essência, entre democratas-cristãos e social-democratas e socialistas, liberais e conservadores, republicanos e democratas, há alguns consensos que dão estabilidade às instituições e continuidade às políticas sociais e econômicas, um sistema que só se considera ameaçado por seus extremos, o neofascismo da Frente Nacional na França, por exemplo, ou a Liga Lombarda na Itália, e grupos e grupelhos ultra comunistas e anarquistas.
Na América Latina, esse processo se dá de maneira mais pausada e com maior risco de retrocesso do que em outras partes do mundo, em razão da debilidade em que se encontra ainda a cultura democrática, que tem uma tradição somente em países como Chile, Uruguai e Costa Rica, enquanto nos demais é muito mais precária. Mas começou a acontecer, e a maior prova disso é que as ditaduras militares praticamente se extinguiram e que, dos movimentos armados revolucionários, sobrevive a duras penas o das Farc colombianas, com um apoio popular decrescente. É verdade que há governos populistas e demagógicos, deixando de lado o anacronismo que é Cuba, mas a Venezuela, por exemplo, que aspirava a ser o grande fermento do socialismo revolucionário latino-americano, vive uma crise econômica, política e social tão profunda, com a grande desvalorização de sua moeda, a carestia demencial - falta tudo, comida, água, até papel higiênico - e as iniquidades da delinquência, que dificilmente poderia agora ser o modelo continental no qual queria transformá-la o comandante Chávez.
Há certas ideias básicas que definem um liberal. Por exemplo, a liberdade, valor supremo, é una e indivisível, e deve atuar em todos os campos para garantir o verdadeiro progresso. A liberdade política, econômica, social cultural, é uma só e todas elas permitem o avanço da justiça, da riqueza, dos direitos humanos, das oportunidades e da coexistência pacífica em uma sociedade. Se a liberdade se eclipsa em apenas um desses campos, ela se encontra armazenada em todos os outros. Os liberais acreditam que o Estado pequeno é mais eficiente do que o que cresce demasiado e, quando isso ocorre, não só a economia se ressente, como também o conjunto das liberdades públicas. Eles acreditam que a função do Estado não é produzir riqueza, e essa função é melhor desempenhada pela sociedade civil, num regime de livre mercado, no qual são proibidos os privilégios e a propriedade privada é respeitada. Indubitavelmente, a segurança, a ordem pública, a legalidade, a educação e a saúde competem ao Estado, mas não de maneira monopólica, e sim em estreita colaboração com a sociedade civil.
Estas e outras convicções gerais de um liberal têm, na hora de serem aplicadas, fórmulas e matizes muito diferentes relacionados ao grau de desenvolvimento de uma sociedade, de sua cultura e de suas tradições. Não há fórmulas rígidas e receitas únicas para que as ponhamos em prática. Forçar reformas liberais de maneira abrupta, sem consenso, pode provocar frustração, desordens e crises políticas que põem em risco o sistema democrático. Este é tão essencial ao pensamento liberal como o da liberdade econômica e o do respeito pelos direitos humanos. Por isso, a difícil tolerância - para quem, como nós, espanhóis e latino-americanos, tem uma tradição dogmática e intransigente tão forte - deveria ser a virtude mais apreciada entre os liberais. Tolerância significa simplesmente aceitar a possibilidade do erro nas próprias convicções e de verdade nas alheias.
Por isso, é natural que haja entre os liberais discrepâncias, e às vezes muito sérias, sobre temas como o aborto, os casamentos gays, a legalização das drogas e outros. Sobre nenhum desses temas existem verdades reveladas. A verdade, como estabeleceu Karl Popper, é sempre provisória, válida apenas enquanto não surgir outra que a qualifique ou a refute. Os congressos e encontros liberais costumam ser frequentemente parecidos com os dos trotskistas (quando existia o trotskismo): batalhas intelectuais em defesa de ideias contrapostas. Alguns veem nisso um traço de inoperância e irrealismo. Acredito que essas controvérsias entre o que Isaias Berlin chamava de "as verdades contraditórias" fizeram com que o liberalismo continue sendo a doutrina que mais contribuiu para melhorar a coexistência social, promovendo o avanço da liberdade humana.
*Mario Vargas Llosa é Prêmio Nobel de Literatura.
TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA
 Organizando eventos acadêmicos com ex-alunos e também colegas.
Organizando eventos acadêmicos com ex-alunos e também colegas.
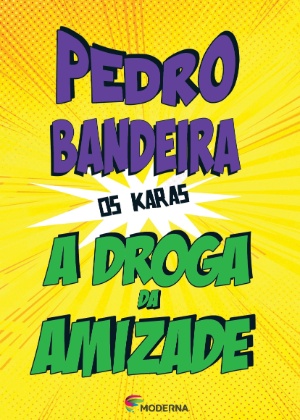


 A ditadura sempre esteve muito preocupada em manter uma aparência de legalidade e com a sua legitimidade. Manteve o Congresso Nacional aberto e criou uma nova Constituição em 1967. Por quê?
A ditadura sempre esteve muito preocupada em manter uma aparência de legalidade e com a sua legitimidade. Manteve o Congresso Nacional aberto e criou uma nova Constituição em 1967. Por quê? O golpe de 1964 é muito citado, mas pouco pesquisado. A literatura especializada usualmente o menciona como a culminância dramática da trajetória de João Goulart ou como o episódio inaugural da ditadura. Hoje, temos uma historiografia crescente sobre os 21 anos dos governos militares, mas o golpe em si não é o objeto preferencial de tais pesquisas. Entretanto, ele é o “evento-chave” da história do Brasil recente: naquele momento, parcelas significativas da sociedade brasileira aceitaram uma solução autoritária para os problemas que afligiam o país. Podemos assegurar que estamos livres dessa “tentação”? Estudos verticalizados sobre o golpe nos ajudariam a responder a esta pergunta.
O golpe de 1964 é muito citado, mas pouco pesquisado. A literatura especializada usualmente o menciona como a culminância dramática da trajetória de João Goulart ou como o episódio inaugural da ditadura. Hoje, temos uma historiografia crescente sobre os 21 anos dos governos militares, mas o golpe em si não é o objeto preferencial de tais pesquisas. Entretanto, ele é o “evento-chave” da história do Brasil recente: naquele momento, parcelas significativas da sociedade brasileira aceitaram uma solução autoritária para os problemas que afligiam o país. Podemos assegurar que estamos livres dessa “tentação”? Estudos verticalizados sobre o golpe nos ajudariam a responder a esta pergunta.
