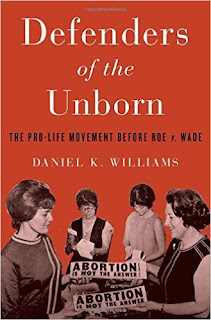Há algum tempo, comprei Defenders of the Unborn: The Pro-Life Movement Before Roe v. Wade, de Daniel K. Williams. Como o nome diz, é a história do movimento de oposição ao aborto antes da legalização da prática nos EUA pela Suprema Corte, em 1973. Das teses que o autor apresenta na introdução, uma me chamou muito a atenção: o movimento "pró-vida" não nasceu entre os conservadores americanos, como se poderia imaginar pelo seu perfil atual. Pelo contrário, era um movimento de raízes no liberalismo progressista católico, afinizado com os ideais do New Deal e da defesa de um Estado de bem-estar social. E mais do que isso: o discurso que ele empregava não era o da fé, simplesmente, mas o do ideário dos direitos humanos, dos quais o mais fundamental é o da vida. A mesma visão que propunha que era do interesse da sociedade (e, portanto, do Estado) zelar pela proteção dos direitos básicos dos indivíduos numa sociedade livre, estendia essas garantias ao feto. Para tanto, falava-se até mesmo -- coisa muito cobrada em debates no Brasil -- sobre a obrigação do Estado interferir para que as mulheres que precisassem recebessem algum tipo de ajuda financeira para não se verem obrigadas a escolher entre um aborto e a miséria. As duas questões apareciam ligadas: o direito do feto à vida e o direito das mulheres como cidadãs (e, por conseguinte, o dever do Estado) de serem também acolhidas e cuidadas quando não pudessem contar com seus próprios recursos.
Apesar da influência católica original, que vinculava a questão do aborto à luta contra os métodos anticoncepcionais, foi essa formulação liberal que permitiu alianças com outros grupos, como judeus e protestantes, dando ao movimento um diversidade considerável tanto no espectro religioso quanto social e político. E foi isso que lhe permitiu derrubar inúmeras iniciativas de legalização do aborto em vários estados americanos até 1972, quando então a interferência da Suprema Corte virou o jogo e, mais adiante, jogaria o movimento nos braços da direita política.
Mas não é só isso. Segundo Williams, o movimento pró-aborto (que ainda não se chamava "pro-choice", pró-escolha) até certa altura dos anos 60, também tinha uma argumentação diferente. Ou melhor, diferente da que deve ser dominante nos EUA, pois é muito familiar a quem acompanha esse assunto no Brasil: a saúde pública. Por essa ótica, a legalização do aborto tinha um caráter utilitário; só depois, em fins da década, é que a defesa da prática seria formulada e difundida como uma questão de autonomia individual e igualdade entre os sexos. A partir daí, a linguagem dos direitos deixa de ser exclusiva dos "pró-vida" e é adotada também pelos seus oponentes.
Essa questão me fez pensar na importância fundamental da linguagem nas disputas políticas. Em uma democracia liberal, existem palavras-chave muito poderosas, difíceis de contestar no âmbito conciso e emocionalmente carregado das grandes discussões. Não por acaso, mesmo o mais linha-dura dos conservadores fala tanto em "liberdade", ou o mais autoritário dos radicais adora falar em "direitos" e "justiça". Quem é contra essas coisas? E até provar que a "liberdade" do linha-dura e a "justiça" do radical não são o que parecem, muita retórica já foi gasta. Como naquela anedota acusatória, "O senhor já parou de bater na sua mulher?", quem define os termos do debate praticamente já o venceu. É sugestiva, por exemplo, a terminologia dos partidários da legalização: "direitos reprodutivos", "direito ao aborto", "direito ao corpo", "interrupção da gravidez". Não é preciso ser um ás da semiótica para ver que, nessa terminologia aparentemente técnica, há um grande ausente: o feto, que não é considerado. O lado "pro-choice" apresenta a questão em termos apenas da mulher individualmente, o que qualifica a oposição como alguém que se opõe não ao aborto apenas, mas aos "direitos da mulher". Esse é um dos clichês dos defensores da legalização hoje em dia: o lado "pró-vida" é frequentemente acusado de querer apenas controlar os corpos das mulheres, negar-lhes a autonomia dada aos homens. Noutras palavras, o debate sobre o aborto "na verdade" seria outra coisa, uma disputa de poder entre homens e mulheres. O que deveria ser a questão principal, se o feto tem ou não um "direito à vida" que deva ser protegido, fica ofuscado pela guerra dos sexos. E assim o debate degenera, pois a atenção é constantemente desviada para outras coisas.
(E sim, pode-se aplicar o mesmo exame ao outro lado, embora não me ocorram terminologias equivalentes. O lado "pró-vida" de hoje, pelo menos o que vejo dele, aparentemente está mais preocupado em chocar com imagens de fetos dilacerados do que em traduzir seus princípios de forma mais intelectualizada.)
(E sim, pode-se aplicar o mesmo exame ao outro lado, embora não me ocorram terminologias equivalentes. O lado "pró-vida" de hoje, pelo menos o que vejo dele, aparentemente está mais preocupado em chocar com imagens de fetos dilacerados do que em traduzir seus princípios de forma mais intelectualizada.)
Claro está que esses desvios não se dão por pura malícia. Hoje, tanto no Brasil quanto nos EUA, muitos opositores à legalização são líderes religiosos que também defendem opiniões um tanto tacanhas de mundo -- nossa bancada evangélica no Congresso não me deixa mentir. Então, não necessariamente é incorreto dizer que a disputa entre os dois lados acaba envolvendo assuntos além do aborto em si, mesmo descontando a conveniência retórica. Porém, o livro de Williams sugere que isso é contingente: nos EUA, o movimento "pró-vida" não estava predestinado a cair nas mãos de conservadores e reacionários -- aliás, mesmo hoje ele de maneira alguma se reduz a esse pessoal --, assim como, e aqui eu falo por mim, tampouco o "pró-escolha" necessariamente representa um avanço da liberdade e do esclarecimento da humanidade. Uma maior consciência do caráter histórico desses movimentos e do debate que promovem, de como chegaram às suas formas atuais e das escolhas feitas em suas trajetórias, pode ajudar a entender a disputa em torno do aborto de uma maneira nova, menos sectária. Não que isso vá "resolver" o dilema ético representado pelo aborto, mas certamente contribui para que tenhamos um debate público mais civilizado e honesto, onde a perspectiva do outro não é descartada aprioristicamente ou reduzida a más intenções.