quinta-feira, janeiro 29, 2009
quarta-feira, janeiro 28, 2009
sábado, janeiro 17, 2009
Luto

Morrison voltou a afirmar que a atual situação de Batman era planejada desde que começaram as conversas entre ele e Dan Didiopara que fosse definida a estrutura de Final Crisis. O escritor define a saga Batman RIP como uma desconstrução psicológica do personagem, apenas uma etapa, assim como a morte que ocorreu agora, e afirma que o presente não pode ser pensado como o fim e que existem vários outros planos para o personagem. Ele nem mesmo afirmou que este tenha sido o fim de Bruce Wayne.
Morrison afirmou que se divertiu muito até o momento e que não se tratou de ficar feliz por assassinar o Batman e sim por escrever uma história com grandes momentos como é Final Crisis. “Eu queria uma história mítica e em grande escala. E é isso que ela se tornou. Não fala de política ou das coisas que estão acontecendo no mundo real. Ela é sobre os deuses começando a interferir na vida e a vida se tornando mítica”, explica.
Para o roteirista, a raiz do mito do Batman está nas balas e na arma que o criaram, e ele procurou produzir uma imagem mítica mostrando o Homem-Morcego empunhando uma arma e disparando balas contra Darkseid, a própria encarnação do mal. Ele lembra que em Final Crisis seres humanos são arrastados para o mundo dos grandes eventos e arquétipos míticos, como o assumido por Batman, que nestas circunstâncias se tornam muito mais óbvios.
Para Morrison as últimas palavras de Batman terem sido “te peguei!”, remetem à luta que o Homem-Morcego travou desde o dia que balas mataram seus pais. O herói sempre enfrentou o mal, e ao disparar uma bala, ele pode erradicar a personificação do deus do mal. “Batman sabe usar o senso de humor melhor do que Darkseid”, ironiza.
Morrison admite que da forma como abordou Bruce Wayne em Last Rites (arco que sucedeu RIP), ele deu a entender que talvez ninguém possa ser capaz de substituir o milionário como o Batman. “Esta sucessão pode realmente não funcionar, mas só saberemos isso no próximo desdobramento da história”, provoca.
Sobre o fim de Final Crisis, o escritor diz que serão vistos múltiplos universos, que o universo chegará ao fim e que tudo se quebrará. Para Morrison é besteira se preocupar em ser realista nos quadrinhos depois que filmes como Batman - O Cavaleiro das Trevas eHomem de Ferro mostraram que o cinema é muito mais capaz de mostrar os super-heróis em um contexto plausível. O que ele quer mostrar em Final Crisis #7 não tem nada a ver com realismo, a idéia é criar um novo estilo de fazer quadrinhos.
Por fim, o escritor revelou que além do seu retorno ao Batman, que deve ocorrer no verão norte-americano, ele deve estar envolvido também em outros projetos de super-heróis da DC Comics, sendo que ele já tem idéias para explorar o conceito do Multiverso.
Grant Morrison é um escritor de quadrinhos escocês. Conhecido por sua narrativa fora dos padrões dos quadrinhos, o autor fez sucesso nas reformulações do Homem-Animal e do Kid Eternidade, ambos da DC Comics. Ainda para a DC, teve uma passagem controversa pela Patrulha do Destino, onde escreveu 40 edições. Esta passagem fica marcada por uma temática recorrente a escola surrealista de arte. Na Marvel, passou por uma fase bem recebida em Novos X-Men, na qual redefiniu muitos conceitos do universo mutante da editora. Atualmente, é roteirista exclusivo da DC Comics, onde escreve a revista mensal do Batman e a saga Final Crisis.
Clique aqui para discutir o assunto em nosso fórum.
Por : Émerson Vasconcelos
Para pensar.
I want to capture your hearts. Let your hearts clap in unison with what I'm saying, and I think, I shall have finished my work.
A friend asked yesterday, did I believe in one world? How can I possibly do otherwise. Of course I believe in one world."
"How would be the world now, if he could communicate in this way? Telecom Italia. Communication is life."
sexta-feira, janeiro 16, 2009
A crise em Gaza - III
quarta-feira, janeiro 14, 2009
Experimento mental
segunda-feira, janeiro 12, 2009
Atlas explica a disputa pela terra entre palestinos e israelenses; leia trecho
da Folha Online
Qual lado tem razão no conflito entre israelenses e palestinos? Talvez seja impossível responder essa pergunta. O "Atlas do Oriente Médio", da Publifolha, apresenta uma análise detalhada do conflito, tenta desvendar suas causas e apontar possíveis soluções. O trecho abaixo, retirado do livro, ajuda a entender melhor essa complexa questão.
*
Israel e a Palestina
A questão palestino-israelense se reduz essencialmente à questão da terra - quem pode viver nela e quem controla seu uso. A isso têm se sobreposto questões de direitos humanos e direito internacional, afetadas pelo ressentimento e pela desconfiança mútuos após décadas de violência. Contesta-se cada fato, cada estatística, cada argumento e cada interpretação jurídica de cada resolução, sentença e documento. O que é incontestável é que os dois lados usaram e usam de assustadora violência um contra o outro e que não só os combatentes, mas também os cidadãos comuns, têm sofrido.
Os assentamentos israelenses na Cisjordânia se iniciaram em 1968. No começo do século 21, havia 400 mil israelenses vivendo em Gaza e na Cisjordânia (inclusive Jerusalém Oriental). Em muitos casos, o que denominavam assentamentos ou colônias já eram cidadezinhas bem estabelecidas.
| Reprodução |
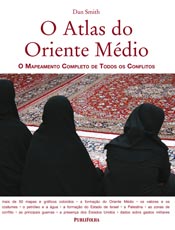 |
| Livro examina todos os conflitos e guerras que assolam a região |
Todas são ilegais pela Quarta Convenção de Genebra (1948), parte do que antes se chamava Lei da Guerra e hoje se conhece como direito humanitário internacional. A Quarta Convenção proíbe que os Estados assentem população civil em território ocupado. Tudo o que se faça com esse fim será ilegal, incluindo o que perpetue a situação. Foi essa a base do parecer de 2004 do Tribunal Internacional de Justiça que considera ilegal o muro que está sendo construído como barreira de segurança entre Israel e a Cisjordânia, pois partes de seu traçado ligam assentamentos ao território principal de Israel.
Em 1988, o Conselho Nacional Palestino (CNP), órgão legislativo da OLP, foi convencido pelo líder da organização, Yasser Arafat, a reconhecer as fronteiras israelenses de 1949. Isso implicava desistir de reivindicar a soberania sobre 78% da Palestina histórica e concentrar a luta na Cisjordânia e em Gaza.
Os israelenses, porém, tinham o direito de duvidar da firmeza dessas intenções, já que não se tomara nenhuma providência para alterar a Carta Nacional Palestina. Afinal, em 2006 o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) ainda não reconhecera Israel como Estado legal quando formou o novo governo da Autoridade Palestina (AP). A maioria dos observadores internacionais, entretanto, acreditava que, em alguma medida, isso acabaria acontecendo, mesmo que o Hamas adotasse uma designação para distinguir o legal do que considera legítimo.
Para os palestinos, a questão não é apenas a presença de colonos na Cisjordânia e (até 2005) em Gaza. É o controle israelense do território, o uso israelense dos recursos hídricos, as limitações que tudo isso impõe às suas perspectivas econômicas, a maneira pela qual são tratados pelas forças israelenses. A dignidade e a esperança dos palestinos, tanto como comunidade quanto como indivíduos, estão sob ataque permanente. Daí o ímpeto de revidar e levar a guerra aos civis israelenses. E, como é típico nos conflitos persistentes, as medidas que Israel toma para neutralizar a ameaça de violência acabam exacerbando o problema subjacente, mesmo que tenham algum impacto a curto prazo no reforço à segurança de Israel.
A Intifada e a Política
A Primeira Intifada foi um movimento popular que opôs às Forças Armadas de Israel jovens que atiravam pedras. As imagens que ela gerou conquistaram solidariedade internacional. A reputação de Israel fora prejudicada pela intervenção no Líbano em 1982, e agora o país encarava o risco do isolamento externo. O governo americano forçou Israel à conferência de paz de Madri, em 1991, mas esta logo empacou. Uma discreta iniciativa norueguesa, em 1993, teve mais sucesso. Israel queria uma maneira de se livrar da Intifada, e a OLP queria voltar do exílio tunisiano para a Palestina. Iniciou-se em Oslo, e assinou-se formalmente na Casa Branca, o acordo para estabelecer um processo de paz em etapas, que daria gradualmente mais autonomia aos palestinos.
A Intifada acabou e a OLP voltou para casa, mas não se instalou a paz verdadeira. O acordo de Oslo adiou as questões difíceis, segundo a teoria de que a concordância imediata sobre os problemas mais simples facilitaria depois a concordância sobre os mais complicados. Não era má teoria, só que, no caso, não funcionou. Militantes de ambos os lados enxergaram concessões demais e benefícios de menos. Os assentamentos não foram fechados e, a partir de 1996, começaram a expandir-se de novo, e houve insegurança e mortes de ambos os lados; aliás, mais israelenses morreram nos seis anos posteriores ao acordo de Oslo do que nos seis anteriores.
Outros quatro anos de negociação renderam intermitente progresso rumo a um acordo, mas os ganhos foram sempre incertos, ainda que o nível de violência tenha diminuído em 1998-9. A Segunda Intifada foi desencadeada pela visita de Ariel Sharon, então líder do partido Likud, à área que os israelenses conhecem como monte do Templo e os palestinos, como Haram al-Sharif. Sharon era militar famoso, ex-ministro da Defesa, linha-dura em matéria de segurança e franco defensor dos assentamentos. A visita, fosse provocativa, fosse inocente, resultou numa explosão de protesto. De início, a Segunda Intifada foi como a primeira, mas ganhou impulso à medida que a Jihad Islâmica, o Hamas e as Brigadas de Al-Aqsa realizavam atentados suicidas. Em resposta, Israel reocupou partes da Cisjordânia, sitiando o quartel-general de Yasser Arafat, em Ramallah. Ambos os lados levaram a guerra aos civis da outra parte, e ambos se justificavam pelos atos do oponente. As ações dos militantes palestinos se mostraram mais letais que na Primeira Intifada, e houve menor simpatia internacional pelos palestinos, sem que Israel encarasse o isolamento que conhecera em 1987-93.
Durante os anos do acordo de Oslo, a Autoridade Palestina teve pouca oportunidade de estabelecer boa governança na Cisjordânia e Gaza; grande parte de sua receita chegava como ajuda internacional através de Israel, cujas forças de segurança eram onipresentes mesmo quando a situação era pacífica. Mas até as poucas chances da AP foram desperdiçadas com o nepotismo, a corrupção, a incompetência e a violação de direitos humanos.
Quando começou a Segunda Intifada, Israel atacou e enfraqueceu tanto as forças de segurança da AP que elas não teriam conseguido agir de modo assertivo contra os atentados suicidas, mesmo se o desejassem.
A desilusão com a AP produziu apoio ao Hamas, fundado em 1988 a partir de um movimento de assistência social que surgira da Irmandade Muçulmana. Se a AP parecia incompetente, corrupta e fraca contra Israel, o Hamas passava a impressão de ser competente, limpo e forte. A morte de Arafat (2004) liberou a opinião pública palestina da lealdade ao movimento dele; em janeiro de 2006, o Hamas venceu as eleições da AP. Israel também está politicamente dividido. O abismo entre os partidários e os opositores do acordo de 1993 com a OLP foi grande, profundo e marcado pela agressividade. A sorte eleitoral oscilava entre o Likud e os trabalhistas. À proporção que avançava a Segunda Intifada, muitos israelenses passaram a ver os habitantes dos assentamentos não mais como heróis, mas como parte do problema. Mesmo entre os mais determinados defensores da ocupação da Cisjordânia e de Gaza cresceu o reconhecimento de que teria de haver ao menos uma retirada parcial, entre eles o próprio Sharon. Para adotar essa opção, ele precisou sair do Likud e formar outro partido, o Kadima ("Avante"). Embora sucessivos derrames tenham tirado Sharon da política, seu partido foi o mais votado na eleição de março de 2006. Naquele momento, a tarefa do Kadima era formar um governo de coalizão que implementasse a retirada limitada.
O Plano de Paz
Como primeiro-ministro, Sharon concluíra que a OLP não era um oponente com que valesse a pena negociar e resolvera impor um plano unilateral de paz. Este, anunciado em 2004, implicava a retirada de todos os assentamentos israelenses em Gaza e de alguns na Cisjordânia. Apesar da resistência dos colonos, a retirada de Gaza se concluiu em 2005. Da perspectiva palestina, os ganhos não foram reais: Israel abriu mão de 49 km2 e, no mesmo período, tomou 60 km2; em 2005, 8.500 colonos judeus deixaram Gaza e 14 mil se mudaram para a Cisjordânia.
Impor um plano de paz é tarefa espinhosa, que se mostra realista apenas quando o lado insatisfeito não tem absolutamente nenhuma opção de revide. O poderio militar de Israel é avassalador se comparado ao da AP e de todos os grupos armados palestinos combinados. E o muro que está sendo construído como barreira de segurança se destina a ser não apenas marco fronteiriço, mas também defesa contra infiltrações. No entanto, não é nada certo que o muro e a força militar avassaladora sejam suficientes para impedir que os homens-bomba cheguem a alvos civis em Israel. Se essas medidas fracassarem, os líderes israelenses talvez acabem lastimando os problemas inerentes ao plano geral de segurança elaborado em 2004-5.
Partes importantes do plano não estavam claras; por exemplo, se os palestinos teriam acesso ao vale do Jordão. Informações oficiais israelenses revelavam que eles ficariam presos entre o muro e o vale, com suas terras divididas em três áreas principais (uma ao norte de Nablus e Tulkarm, da qual as forças israelenses se retirariam; outra entre Nablus e Jerusalém;e a terceira ao sul de Jerusalém), além da zona ao redor de Jericó.
Cada uma delas seria cortada por estradas israelenses, que se destinariam primordialmente aos colonos e aos militares. Muros ao longo de algumas dessas estradas tornariam impossível atravessá-las a não ser nos postos de controle. Perto das estradas, não se permite nenhuma atividade agropecuária, construção ou obras. O traçado do muro faz que muitos assentamentos (inclusive zonas onde a construção de colônias está prevista mas ainda não foi executada) fiquem em contato direto com o território de Israel propriamente dito, dividindo terrenos agrícolas e tomando mais terras da Cisjordânia (incluindo as áreas onde moram palestinos).
Israel alega necessidade de segurança, mas a consequência dessas medidas é tornar mais difícil o cotidiano dos palestinos, complicando o comércio e enfraquecendo a economia. Pelo que se depreende do plano, a região palestina não estaria unificada e não poderia ser governada com eficiência. O risco é que tais condições continuem a alimentar o ressentimento e o ímpeto de retaliar.
Os partidos políticos israelenses a favor de abandonar parte dos assentamentos estavam divididos a respeito de como fazê-lo. O Kadima, com o bom desempenho na eleição de 2006, dispunha-se a prosseguir sem negociações, considerando o Hamas um parceiro ainda mais inaceitável que a OLP. Por outro lado, se o Hamas não corresponder às expectativas palestinas, talvez surja uma alternativa mais radical, da mesma maneira que o Hamas e a Jihad Islâmica foram a alternativa radical à pragmática OLP."
*
FONTE:"Atlas do Oriente Médio"
Autor: Dan Smith
Editora: Publifolha
Páginas: 144
Quanto: R$ 39,90
Onde comprar: nas principais livrarias, pelo telefone 0800-140090 ou pelo site da Publifolha
Edgar Allan Poe
Domingo, 11 de Janeiro de 2009 |
Poe
No bicentenário de seu nascimento, escritor ainda mantém grande influência na literatura atual
Ubiratan Brasil
Mais conhecido por contos e poemas de mistério como A Queda da Casa de Usher, Os Assassinatos da Rua Morgue e O Coração Denunciador, Poe foi o criador de vários gêneros literários. Segundo Paul Valéry, o poeta francês avaro com as palavras, ele escreveu os primeiros e mais impressionantes exemplos da narrativa científica, além de exercícios da moderna poesia cosmogônica, do romance policial pedagógico, e da introdução de situações e estados psicologicamente doentios na literatura.
Os aplausos, é claro, não foram unânimes. Para Ralph Emerson, por exemplo, Poe era um autor supervalorizado. E Stevenson considerava cansativa e pouco verossímil a constante tentativa de passar lições de moral em seus escritos. A obra de Poe, no entanto, perdura e transcende o próprio autor. Italo Calvino, outro de seus admiradores, acreditava que, depois de Poe, toda a literatura do decadentismo nutriu-se fartamente de seus principais motivos; e o cinema, das origens até hoje, os divulgou à exaustão.
Os Assassinatos da Rua Morgue, por exemplo, é considerado o marco inicial do moderno romance policial e seu personagem principal, o investigador Auguste Dupin, inaugurou uma linhagem de detetives que se estende até hoje. E, nos contos góticos, pôs em prática suas teorias sobre a manipulação do leitor.
A divulgação mundial de sua obra se deveu às traduções francesas, especialmente as feitas por Charles Baudelaire que, de 1852 a 1865, verteu os textos de Poe, vendo nele um modelo, precursor do simbolismo, um autor de gênio, uma figura quase mítica. Na verdade, a obra de Poe permitiu a Baudelaire encontrar seu próprio rumo, liberando um talento à espera de ser desenvolvido.
Na verdade, Poe ressaltava suas virtudes intelectuais para fugir da desgraça pessoal. O autor de O Corvo, poema de extremo virtuosismo formal, levava uma vida atribulada, desvinculado de laços familiares e amizades sinceras. Conheceu a pobreza e morreu misteriosamente aos 40 anos, provavelmente vítima das drogas e do álcool. Poe chocou leitores e críticos, como escreveu Júlio Cortázar, por construir figuras que "se abandonam às neuroses, à mania, à normalidade ou ao vício, sem a menor sutileza." Criou, enfim, "um só personagem com vida interior".
A realidade o atormentava. A ponto de vários momentos de sua vida parecerem encomendados por Hollywood. Filho de atores amadores, Edgar Poe ficou órfão aos 2 anos, sendo socorrido por um rico comerciante que o abrigou (e de quem adotou o sobrenome Allan). Depois de um raro período de conforto material e espiritual, foi estudar na Universidade da Virgínia, onde começou a jogar, beber e acumular dívidas. O vício pelo álcool, aliás, marcaria o resto de sua trajetória, uma linha tortuosa em que empregos temporários em jornais, constantes trocas de pensões e projetos que não saíam do papel não passavam de desesperadas tentativas de fazer com que o acreditassem nascido em berço esplêndido, educado no exterior e com um passado rico em aventuras tão fantásticas quanto as de seu personagem Arthur Gordon Pym.
Poe não conseguia conciliar o trabalho com a vida cotidiana, pois alternava o rigor e a disciplina dos momentos de criação com um completo desalinho e um constante hálito alcoólico com que era encontrado nas ruas, criando o duplo de si mesmo. Colecionou uma série de infortúnios até que, na madrugada de 7 de outubro de 1849, depois de uma série de acontecimentos nebulosos, foi levado para um hospital onde balbuciou suas últimas palavras: "Senhor, ajudai minha pobre alma". Nunca se soube a causa precisa de sua morte - embriaguez a mais provável, mas também há hipóteses de diabetes, sífilis, raiva ou doenças cerebrais raras. Certo, mesmo, é o valor permanente de sua obra, como comprovam os inúmeros seguidores.
quinta-feira, janeiro 08, 2009
A crise em Gaza - 2: Illan Pappé no Globo News
quarta-feira, janeiro 07, 2009
A crise em Gaza - 1
Bem, eu não tenho vocação para hooligan. Para ser franco, até onde tenho consciência, também não tenho vocação para defesas apaixonadas, provavelmente pelo simples fato de desconfiar por temperamento de quem bate no peito e muda o tom de voz por qualquer razão que seja. Por isso mesmo, a questão de Israel sempre me pareceu algo ridícula: não por ser desprovida de seriedade ou nuances trágicas, mas pelo irracionalismo que evoca em gente que, muitas vezes, nunca pisou lá ou se deu ao trabalho de escutar as partes envolvidas com real boa vontade. Assim, quando, pela primeira vez, procurei conhecer melhor a questão, caçando livros minimamente confiáveis na Amazon.com, não pude deixar de notar a guerra ideológica que se dá na seção de resenhas de cada livro, como se palestinos e israelenses, ou seus torcedores, fizessem uma patrulha minuciosa a fim de exaltar ou difamar cada obra de destaque lançada sobre o assunto. Para um humildade historiador em busca de informação idônea, que mora a milhares de quilômetros do confronto e não tem qualquer laço de lealdade para com judeus, árabes ou marcianos, isso chegava a ser constrangedor. Mais ainda, admito, por que o iniciante, informado apenas pela imprensa a respeito do conflito interminável que se dá nesse pedaço do Oriente Médio, tende a começar sua busca com uma questão que é não apenas histórica, mas também moral: quem é o culpado? Ou ainda, quem tem mais direito àquela terra? E com tais perguntas na cabeça, ao compulsar a literatura, é bem provável que ele se veja andando em círculos, refém da disputa de propaganda disfarçada de história (e de perguntas iniciais um tanto ingênuas).
De lá para cá, aprendi algumas coisas sobre o problema, embora ele nunca tenha tido para mim qualquer prioridade. Até onde me diz respeito, se qualquer um dos povos decidisse se mudar para uma província gelada no Canadá, ou arrematassem a Islândia num leilão, tanto faria. Contudo, hoje, há um fato concreto em curso: seja qual for o "culpado" desta vez, o que está acontecendo é uma guerra inegavelmente sangrenta, de eficiência discutível no médio e no longo prazo, possivelmente mais orientada para objetivos eleitorais (tradução aqui), em que o lado mais forte criou grandes obstáculos para a cobertura jornalística e na qual quem mais sofre é a população civil privada dos itens mais necessários do dia a dia. Creio que ninguém em são consciência questionará que isso é um mal -- e o mal, para ser combatido de forma eficiente, deve ser compreendido.
Assim, gostaria de recomendar-lhes alguns links. O primeiro é o blog do Idelber Avelar, que virou uma espécie de central de notícias sobre o atual episódio do conflito entre israelenses e árabes. Além de alguns artigos candentes, o site tem uma profusão de links de interesse. O outro é o jornal israelense Haaretz, que tem uma versão online em inglês. O blog Escrevinhamentos apresenta uma súmula de links interessantes, alguns em comum com o Idelber.
Para a versão oficial das causas da guerra, creio que não preciso indicar nada. Basta a qualquer interessado ler os jornais ou ligar a TV. Em todo caso, já que indiquei o Haaretz, pode-se dar uma olhada num editorial que dá um resumo da posição pró-invasão no site do Jerusalem Post. Atente-se para os comentários dos leitores que, para quem não lhes esposa as posições, podem ser um tanto deprimentes.
No que tange, contudo, às causas remotas do problema Israel-Palestina, o canal Globo News, em seu programa Milênio, exibiu há poucos dias uma entrevista de meia hora com o historiador Illan Pappé. Este pertence a uma corrente de historiadores israelenses ditos "revisionistas", que desafiaram, ou melhor, ao que tudo indica, desmentiram a versão oficial da história do Estado de Israel, segundo a qual, por exemplo, o território se encontrava praticamente "vazio" nos anos 1940 (coisa que já ouvi brasileiros repetirem com mais convicção do que as evidências autorizam). Obviamente isso desperta controvérsias e reações as mais variadas. Seja como for, a entrevista está disponível no site do programa, ao menos por esta semana, e a reproduzo no post acima. Quanto ao livro de Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine, pode ser encontrado, junto com as resenhas beligerantes de praxe, aqui.
Abaixo, o artigo do Le Monde Diplomatique que aborda o revisionismo.
------
Os intelectuais pacifistas de Israel
A intelligentsia israelense conheceu, nos anos 1980, o começo de uma mutação notável, que marca a ascensão de uma nova geração de homens e de mulheres que não conheceram a shoah [1] nem a criação do Estado de Israel. Essa evolução é também testemunho do amadurecimento progressivo das elites, capazes, a partir de então, de julgar sem complexo o passado e de se livrar dos mitos e tabus propalados pelos dirigentes israelenses.
O anticonformismo desses intelectuais — historiadores, sociólogos, filósofos, jornalistas, escritores, cineastas, artistas — manifestou-se depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967: a ocupação, a resistência palestina, a ascensão ao poder da direita nacionalista e religiosa em 1977, a influência crescente dos colonos e dos rabinos expansionistas, a exacerbação das tensões entre religiosos e leigos não deixou de alimentar a contestação. “Quando eles falam de Tel-Aviv, os religiosos usam com freqüência a expressão ‘Sodoma e Gomorra’, ao passo que, para os laicos, Jerusalém é como a Teerã do tempo dos aiatolás”, comenta Michel Warschawski, um dos dirigentes da ala radical do movimento pacifista.
A paz com o Egito, em 1979, suscitou a esperança de uma solução global, que a invasão do Líbano, em 1982, transformou em desilusão. Vista pela opinião pública como a primeira guerra ofensiva de Israel, esta última foi provocada por razões que se revelaram falsas. A Organização para a Libertação da Palestina (OLP), que a dupla Menahem Begin - Ariel Sharon buscava aniquilar, não promoveu nenhuma provocação, ao contrário do que o governo israelense afirmava. Ela deu, até mesmo, sinais da vontade de se engajar na via do compromisso. Não colocava em perigo a existência do Estado judeu. À época, muitos israelenses ficaram escandalizados com a extrema brutalidade de suas forças armadas, e com o número exorbitante de vítimas entre os civis palestinos e libaneses, que culminou no terrível massacre de Sabra e Chatila.
Acontecimentos sem precedentes se sucederam então: cerca de quatrocentos mil manifestantes protestaram no centro de Tel Aviv; quinhentos oficiais e soldados desertaram; o movimento dos refuseniks [2] tomou forma com aqueles que se recusavam a servir o exército, inicialmente no Líbano, em seguida nos territórios ocupados. A “pureza das armas”, de que o Estado judeu se gabava desde o seu nascimento, ficou seriamente prejudicada.
São os primeiros pesquisadores, desde a criação do Estado de Israel, a fundamentar seus trabalhos em documentos irrefutáveis, ao invés de referências de segunda mão
Jovens historiadores contribuíram ainda mais, voluntariamente ou não, para o descrédito desse slogan. Ao tomar conhecimento dos arquivos oficiais, em grande parte tornados públicos em 1978 (trinta anos depois dos acontecimentos relacionados, como autoriza a lei israelense), descobriram que o comportamento das forças judaicas, antes e durante a Guerra de 1948, esteve longe de corresponder à imagem idílica projetada pela propaganda. Apoiado por documentos oficiais, Simha Flapan, fervoroso sionista até sua morte e um dos dirigentes do partido de esquerda Mapam, foi o primeiro a publicar uma obra expondo os “sete principais mitos” utilizados para enganar a opinião pública durante décadas [3].
Dominique Vidal [4], em colaboração com Sébastien Boussois, expõe e analisa as conclusões daqueles que, atualmente, designamos como “novos historiadores”: trata-se dos primeiros pesquisadores, desde a criação do Estado de Israel, a fundamentar seus trabalhos não sobre referências de segunda mão, como fizeram seus predecessores, mas sobre documentos irrefutáveis, consultados nos arquivos do Conselho de Ministros, do Exército, do Palmach (tropas de choque), das organizações sionistas, do diário do primeiro-ministro David Ben Gurion, entre outros.
Seu livro descreve as circunstâncias que conduziram à guerra contra os exércitos árabes, estigmatiza o papel de Ben Gurion, no melhor dos casos ambíguo, e consagra um capítulo a Benny Morris, o líder dos “novos historiadores”, que Vidal classifica de “esquizofrênico”, em razão do fosso entre seu engajamento de historiador na busca da verdade e suas posições políticas próximas da extrema-direita israelense. Vidal analisa, por fim, a obra mais recente de Ilan Pappé, The ethnic cleansing of Palestine ["A limpeza étnica da Palestina", ainda sem edição em português], que provocou tal escândalo (depois de tantos outros) que ele teve que se demitir da Universidade de Haifa para se exilar em uma universidade britânica.
Pappé não é o primeiro intelectual dissidente, e sem dúvida não será o último, a se expatriar para escapar do ambiente opressivo reservado aos “pestilentos”, como ele se define. No entanto, é muito difícil contestar suas narrativas, bem mais detalhadas do que as de seus predecessores. O historiador de Haifa teve acesso a documentos guardados nos arquivos israelenses há sessenta anos (e não apenas há quarenta, como foi o caso de seus predecessores). Mas ele também se baseou nos escritos de historiadores palestinos, muitas vezes testemunhas oculares dos acontecimentos. E recolheu testemunhos de sobreviventes da limpeza étnica, até agora, curiosamente, negligenciados por seus colegas, seja pela rejeição a priori dos testemunhos, seja por má fé, seja pela ignorância da língua árabe. São testemunhos ainda mais preciosos pelo fato de os Estados árabes se recusarem até hoje a abrir seus arquivos aos pesquisadores.
"Nós estamos em condições de ocupar toda a Palestina, disso não tenho qualquer dúvida", escreve Ben Gurion, o fundador de Israel, três meses antes da guerra de 1948
As divergências entre Ilan Pappé e Benny Morris não são, em última análise, fundamentais. Um e outro confirmam, em primeiro lugar, que a Guerra de 1948 não foi, como se costuma dizer, um combate de “David contra Golias”, pois as forças judaicas eram claramente superiores em efetivos e armamentos às de seus adversários. No auge da guerra civil judaico-palestina, havia apenas alguns milhares de combatentes palestinos mal equipados, apoiados por voluntários árabes do Exército de Libertação de Fawzi Al-Qawuqji. E, mesmo quando os Estados árabes intervieram, no dia 15 de maio de 1948, seus contingentes eram muito inferiores aos da Haganá [5], que não parava de se reforçar.
Além disso, os dois historiadores concordam que os exércitos árabes invadiram a Palestina in extremis, e certamente a contragosto, não para “destruir o jovem Estado judeu”, algo do qual sabiam que eram incapazes, mas para impedir que Israel e a Cisjordânia — em “conluio”, segundo o historiador Avi Shlaïm — partilhassem o território devolvido aos palestinos pelo plano de divisão da ONU de 29 de novembro de 1947.
“Nós estamos em condições de ocupar toda a Palestina, disto não tenho qualquer dúvida”, escreveu Ben Gurion a Moshe Sharett em 1948, três meses antes da guerra israelo-árabe e algumas semanas antes das entregas maciças de armamentos encaminhados, via Praga, pela União Soviética. Algo que não o impediu de proclamar repetidas vezes que Israel estava ameaçado de um “segundo holocausto”.
Deixando-se arrebatar pela euforia das vitórias conquistadas, relata Ilan Pappé, o “pai” do Estado judaico escreveu no dia 24 de maio, na primeira semana da guerra, em seu diário pessoal: “Nós estabeleceremos um Estado cristão no Líbano (…) nós faremos a Cisjordânia em pedaços, bombardearemos a sua capital, destruiremos o seu exército (…) deixaremos a Síria de joelhos (…) nossa aviação atacará Port Said, Alexandria e o Cairo, e isto para vingar nossos ancestrais oprimidos pelos egípcios e pelos assírios nos tempos bíblicos (…)”.
Está demonstrado: as autoridades israelenses que forçaram os palestinos ao êxodo recorrendo, para enxotá-los de suas terras, à chantagem, à ameaça, ao terror e à brutalidade das armas
Do mesmo modo, Benny Morris e Ilan Pappé reduzem a nada a fábula, alimentada pelos dirigentes israelenses, segundo a qual os palestinos teriam deixado os seus lares voluntariamente, depois de apelos lançados pelas autoridades e pelas rádios árabes (emissões que a propaganda israelense forjou, como testemunham as gravações integrais realizadas pela BBC). Ao contrário, os dois historiadores confirmam aquilo que já sabíamos desde o fim dos anos 1950: foram as autoridades israelenses que forçaram os palestinos ao êxodo recorrendo à chantagem, à ameaça, ao terror e à brutalidade das armas para enxotá-los de suas terras.
Eles divergem, no entanto, sobre o sentido dessas expulsões. Para Benny Morris, são apenas “danos colaterais”: “guerra é guerra”, afirma, acrescentando mais recentemente [6], não sem cinismo, que Ben Gurion deveria ter prosseguido até expulsar o último palestino. Onde Benny Morris descreve um êxodo “nascido da guerra e não de uma intenção, judia ou árabe”, Ilan Pappé mostra que a purificação étnica foi planejada, organizada e posta em prática a fim de ampliar o território do Estado de Israel e de “judaizá-lo”.
O fato é que, apesar de terem aprovado publicamente o plano de divisão das Nações Unidas, os dirigentes sionistas o julgavam inadmissível: sua aprovação era de ordem tática, como indicam os numerosos documentos arquivados, assim como o diário de Ben Gurion.
Mais da metade da Palestina lhes havia sido atribuída, o restante regressando aos árabes autóctones que eram duas vezes mais numerosos do que os judeus. Todavia, aos seus olhos, o território previsto para o Estado de Israel era muito estreito para acolher os milhões de imigrantes que seus dirigentes esperavam receber. Além disso, 405 mil árabes palestinos conviveriam ali com 558 mil judeus, estes últimos constituindo assim apenas 58% da população do futuro Estado hebreu. Com tal composição, o sionismo arriscava-se a perder até mesmo a sua razão de ser. Daí a fórmula “tornar a Palestina tão judia quanto a América é americana e a Inglaterra é inglesa”, lançada por Haim Weizmann, futuro primeiro presidente de Israel.
A “transferência” (eufemismo para designar a expulsão) dos árabes autóctones para fora das fronteiras atormentou os espíritos dos dirigentes sionistas. Por isso, eles não paravam de debatê-la, o mais das vezes a portas fechadas. No final do século 19, Theodor Herzl sugeriu ao sultão otomano que deportasse os palestinos para desocupar o território e dar lugar à colonização judaica. Em 1930, Haim Weizmann tentou persuadir o governo britânico, potência mandatária da Palestina, a fazer o mesmo.
Em alguns meses, foram registrados dezenas de massacres e execuções sumárias: 531 aldeias, em um total de mil, foram destruídas ou reconvertidas para acolher imigrantes judeus
Em 1938, depois da proposição de um mini-Estado judeu, e também de uma transferência de árabes, pensada pela comissão britânica dirigida por Lord Peel, Ben Gurion declarou diante do comitê executivo da Agência Judaica: “Eu sou favorável à transferência obrigatória — uma medida que não tem nada de imoral”. A Guerra de 1948 ofereceu-lhe a ocasião sonhada. Seis meses antes da intervenção dos exércitos árabes, ele lançou contra a população autóctone a ofensiva destinada a deportá-la. Para realizar esse projeto — revela Pappé —, Ben Gurion possuía um arquivo com dados de todas as aldeias árabes, contendo informações demográficas, econômicas, políticas e militares, arquivo criado pela Agência Judaica em 1939 e atualizado constantemente ao longo da década de 1940.
Os meios aos quais as forças judaicas recorreram — e que Ilan Pappé analisa em detalhes — são de dar frio na espinha, mesmo que tenham por precedentes as atrocidades cometidas no curso das purificações étnicas conduzidas por outros povos desde a alta antigüidade. O balanço feito pelo historiador é eloqüente: em alguns meses, foram registrados dezenas de massacres e execuções sumárias; 531 aldeias, em um total de mil, foram destruídas ou reconvertidas para acolher imigrantes judeus; onze centros urbanos etnicamente mistos viram-se esvaziados de seus habitantes árabes.
Sob a ponta das baionetas, o conjunto de palestinos de Ramallah e de Lod, cerca de 70 mil pessoas, inclusive crianças e idosos, foi banido em poucas horas, em meados de julho de 1948. A operação foi instruída por Ben Gurion, como o testemunham as memórias, posteriormente censuradas, do futuro primeiro-ministro Itzhak Rabin — à época, o oficial superior encarregado, juntamente com Igal Allon, da atividade. Repelidos em direção à fronteira da Cisjordânia, vários palestinos morreram no caminho, de cansaço. A mesma coisa ocorrera, em abril, na cidade de Jaffa, quando 50 mil de seus habitantes árabes tiveram de fugir, aterrorizados pelo ataque intensivo da artilharia do Irgun [7], e pelo medo de novos massacres. Foi o que o próprio Benny Morris chama de “fator atrocidade”.
Esses horrores são ainda mais injustificáveis quando se sabe que muitas aldeias árabes — Ben Gurion mesmo o confessa — haviam declarado sua vontade de não resistir à divisão da Palestina e até mesmo decidido estabelecer, para esse fim, acordos de paz com seus vizinhos judeus. Foi o caso da aldeia de Deir Yassin, onde, apesar de tudo, as forças irregulares do Irgun e do Lehi [8] exterminaram uma parte considerável da população — com o acordo tácito da Haganá, o exército “regular” da Agência Judaica, segundo Simha Flapan.
Entre 1947 e 49, entre 750 e 800 mil palestinos tiveram de se exilar. Seus imóveis e móveis foram confiscados.O Fundo Nacional Judeu tomou 300 mil hectares de terras árabes
No total, entre 1947 e 1949, de 750 mil a 800 mil palestinos tiveram de tomar o caminho do exílio, enquanto seus bens imobiliários e mobiliários eram confiscados. Segundo a estimativa de um oficial israelense citado por Dominique Vidal, o Fundo Nacional Judeu se apoderou de 300 mil hectares de terras árabes, das quais a maior parte foi dada aos moradores dos kibutz. A operação não poderia ter sido melhor concebida: no dia seguinte ao voto da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 11 de dezembro de 1948, que aprovou a famosa resolução sobre o “direito ao retorno”, o governo israelense adotou a “lei de urgência relativa às propriedades dos ausentes”, que complementou aquela sobre o “cultivo das terras abandonadas”, de 30 de junho de 1948, e legalizou retroativamente a espoliação, proibindo que os espoliados se instalassem novamente em suas casas ou reivindicassem qualquer compensação.
Apesar dos protestos de alguns membros do governo israelense, escandalizados pela brutalidade da purificação étnica, Ben Gurion — que não havia patrocinado explicitamente e por escrito essas ações — não fez nada para interrompê-las. Contentou-se em denunciar os saques e os estupros a que os soldados do Tsahal se entregavam — crimes que se beneficiaram, contudo, de uma impunidade total. O mais espantoso, sem dúvida, foi o pesado silêncio da “comunidade internacional” — silêncio que se prolongou por várias décadas, durante as quais os observadores estrangeiros, incluídos os da ONU, não ignoraram as atrocidades cometidas. Compreendemos melhor, dessa maneira, porque os palestinos falam em nakba (catástrofe) quando se referem à “guerra de independência de Israel”.
Avi Shlaim, professor de longa data no St. Anthony’s College, em Oxford, acaba de publicar Le Mur de fer, Israël et le monde arabe ["O muro de ferro: Israel e o mundo árabe". ainda ainda sem edição em português]. No livro, Shlaim destrói mais um mito: o de um Estado de Israel enamorado pela paz, em oposição ao belicismo dos Estados árabes dedicados a aniquilá-lo. O título de sua obra refere-se à doutrina de Zeev Jabotinsky. Já em 1923, esse pai da direita ultranacionalista judaica, afirmava que era imprescindível desistir de negociar um acordo de paz antes de ter colonizado a Palestina, protegido dos perigos por um “muro de ferro”, já que os árabes só compreendiam a lógica da força.
Tendo adotado essa doutrina na prática, políticos e militares israelenses, tanto de “direita” quanto de “esquerda”, teriam, no mais das vezes, sabotado os sucessivos planos de paz. Calculando que o tempo joga a favor de Israel, e sustentando que este “não tem um parceiro pela paz”, conforme as palavras de Ehud Barak, os dirigentes de Jerusalém esperam sempre que a parte contrária se resigne a aceitar a expansão territorial do Estado judeu e a fragmentação de um hipotético Estado palestino, condenado a se tornar um mosaico de “bantustões”. A obra de Shlaim, cuja edição inglesa no ano 2000 tornou-se um best-seller, com mais de cinqüenta mil exemplares vendidos, foi traduzida em várias línguas antes de aparecer em hebraico, cinco anos depois: a quase totalidade dos editores israelenses a havia considerado até então “sem interesse”.
Historiadores, sociólogos, escritores, jornalistas e cineastas da nova onda da intelligentsia são sionistas de tipo novo. Estão convencidos de servir à causa da paz, ao restabelecer a verdade histórica
Avi Shlaim admite “reconhecer a legitimidade do movimento sionista e a do Estado de Israel em suas fronteiras de 1967”. Ele acrescenta, porém: “Por outro lado, rejeito totalmente o projeto colonial sionista além dessa fronteira”. Com algumas exceções, os historiadores, sociólogos, escritores, jornalistas e cineastas pertencentes à nova onda da intelligentsia são, como ele, sionistas de um tipo novo, aos quais apelidamos de “pós-sionistas”. Todos estão convencidos de servir à causa da paz ao restabelecer a verdade histórica e ao reconhecer os prejuízos causados aos palestinos.
Para apreender o sentido e o alcance dessa mutação, iniciada nos anos 1980, podemos ler com proveito a pesquisa realizada em Israel por Sébastien Boussois junto aos novos historiadores e seus adversários [9]. Alguns chegaram à conclusão de que a instituição de um Estado de Israel “normalizado”, em paz com seus vizinhos, depende em grande medida do impacto que esses intelectuais contestadores terão sobre a sociedade e principalmente sobre o mundo político israelense.
É o que escreve, à sua maneira, Yehuda Lancry, antigo embaixador de Israel na França e nos Estados Unidos: “Os ‘novos historiadores’, mesmo por meio do radicalismo de Ilan Pappé, são tanto os batedores dessa região pouco clara da consciência coletiva israelense quanto os preparadores de uma adesão mais firme ao reconhecimento mútuo e à paz com os palestinos. Seu trabalho, longe de representar uma fonte de transtornos para Israel, é uma honra para o seu país — e, mais do que isso, um dever, uma obrigação moral, uma prodigiosa tomada de responsabilidade sobre um empreendimento liberador capaz de inscrever no vivido israelense as linhas de articulação, os interstícios saudáveis, necessários para a inserção do discurso do outro [10].”
[1] Termo iídiche, que significa calamidade ou grande catástrofe, com o qual os judeus se referem ao holocausto nazista.
[2] Originalmente, o termo nomeava judeus, armênios e outras minorias às quais era negada autorização para emigrar na antiga União Soviética. Atualmente, a palavra designa aqueles que alegam objeção de consciência para não servir o exército israelense.
[3] The Birth of Israel, myths and realities (Nova York, Pantheon Books, 1987).
[4] Dominique Vidal é jornalista, integrante do coletivo de redação de Le Monde Diplomatique (França). Seu livro Comment Israel expulsa les Palestiniens (Como Israel expulsou os palestinos) é uma edição revista e ampliada da obra Le péché originel d’Israel (O pecado original de Israel), publicada pelo mesmo autor, em colaboração com Joseph Algazy, pelas Éditions de l’Atelier, em 1988.
[5] Força paramilitar judaica. Criada durante o Mandato Britânico na Palestina, entre 1920 e 1948, tornou-se a coluna vertebral do exército israelense.
[6] Em uma entrevista ao diário Haaretz (Tel Aviv, 8 de janeiro de 2004).
[7] Organização sionista terrorista atuante na Palestina. Fundado em 1931, o Irgun foi dirigido, a partir de 1943, por Menahem Begin, futuro primeiro-ministro israelense. Em 1948, com a criação do Estado de Israel, a grande maioria de seus membros foi incorporada ao recém-criado exército nacional.
[8] Organização sionista terrorista atuante na Palestina. O Lehi nasceu, em 1940, de uma dissidência do Irgun, liderada por Avraham Stern.
[9] Ver Dominique Vidal, op. cit. Sébastien Boussois é, por outro lado, o autor de Israel, confronté à son passé (Israel confrontado com o seu passado). Paris, L’Harmattan, 2008.
[10] Prefácio ao livro de Dominique Vidal, op. cit.
Descoberta

Que prazer há em descobrir que algo que intuímos ou buscamos tem um nome! Especialmente quando se trata de todo um subgênero ficcional.
